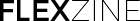| Angela Rosch Rodrigues |
Este artigo tem por principal objetivo situar a destruição do prédio e acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ocorrida no dia 02 de setembro de 2018, no âmbito das discussões patrimoniais sobre o tema da ruína dos bens culturais. Para tanto, são utilizadas asserções teóricas que podem oferecer chaves interpretativas para o problema da ruína provocada de modo súbito e catastrófico e, também, para os processos de arruinamento derivados da incúria. Assim, é possível constatar que o Museu Nacional sintetiza não só a tragicidade do evento em si – o incêndio – mas, principalmente, a negligência com patrimônios que se deterioram continuamente.
Introdução
É sabido que o Museu Nacional do Rio de Janeiro (Fig. 1 e Fig. 2), que tinha completado 200 anos em 06 de junho de 2018, era um bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) desde 1938 nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes. O vasto acervo contemplava áreas de zoologia, arqueologia, etnografia, antiguidades clássicas, geologia e paleontologia, dentre as quais, a coleção arqueológica Balbino de Freitas (conchas do litoral sul), também listada pelo IPHAN, em 1938, no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico [1].
A destruição do maior museu de História Natural da América Latina provocada por um incêndio na noite do dia 02 de setembro de 2018 sintetiza de modo trágico dois relevantes pontos da discussão da preservação patrimonial: os arruinamentos súbitos provocados por incidentes catastróficos causados por fatores antrópicos (guerras, incêndios, colisões, demolições criminosas etc.) ou naturais (inundações, terremotos etc.); e os arruinamentos derivados da incúria com os bens culturais. Sendo assim, este artigo tem por principal objetivo situar a destruição do prédio e acervo do Museu Nacional diante do tema da ruína, a fim de oferecer chaves interpretativas para a situação mediante o cenário nacional embasadas em asserções teóricas.

Fig.1. Museu Nacional do Rio de Janeiro, 29 de Agosto de 2018, fachada principal (fonte: foto gentilmente cedida por André Tavares).

Fig. 2. Museu Nacional do Rio de Janeiro, 29 de Agosto de 2018, fachada principal (fonte: foto gentilmente cedida por André Tavares).
O impacto da perda
Na Era Moderna, a perplexidade de intelectuais de diversas áreas frente às ruínas provocadas por incidentes catastróficos pode ser constatada em momentos emblemáticos, como o incêndio de Londres, entre 02 e 05 de setembro de 1666, e o grande terremoto de Lisboa que ocorreu em 01 de novembro de 1755; ambos, eventos de grande impacto pelo grau de destruição provocado às respectivas cidades. Voltaire (1694-1778), por exemplo, se comoveu a ponto de compor o “Poème sur le désastre de Lisbonne” (1756) e o gravador francês Jacques Philippe Le Basde (1707-1783) realizou uma série de pranchas retratando o estado da cidade de Lisboa pós-sismo: “Recueil des plus belles ruines de Lisbonne” (1757). As ruínas do Convento do Carmo (Lisboa) remanescem até a atualidade como uma referência memorial ao grande terremoto [2].
No século XIX, a Comuna de Paris (1871) também provocou destruições de grande proporção em diversos edifícios icônicos da cidade como o Hôtel de Ville (prefeitura), a Monnaie (Casa da moeda) – ambos reconstruídos posteriormente –, e o Palácio das Tulherias, cujas ruínas foram definitivamente demolidas em 1882. O estado de arruinamento de Paris foi extensivamente documentado através do levantamento fotográfico: “Guide à travers les ruines: Paris et ses environs” (1871) de Hans Ludovic e J.-J. Blanc.
Já no início do século XX, o colapso do Campanário de San Marco e de parte da Loggetta del Sansovino, em Veneza, que ocorreu em 14 de Julho de 1902, tornou-se um paradigmático caso no que diz respeito à proposta de repristinação – “com`era e dov`era” (como era, onde estava) [3] –, apresentada pelo arquiteto Luca Beltrami (1854-1933). Os trabalhos foram prosseguidos por Gaetano Moretti (1860-1938) que sublinhou a necessidade de se valer de instrumentos técnicos tradicionais e modernos para uma reconstrução que assegurasse a existência de um novo campanário – uma cópia do antigo com cerca de 2.000 toneladas a menos –, cujas obras terminaram em janeiro de 1912.
Os arruinamentos de edifícios e cidades inteiras se tornaram praticamente incomensuráveis com as duas Grandes Guerras Mundiais. A cidade de Ypres (Bélgica), por exemplo, foi completamente destruída durante a Primeira Guerra. Já a Segunda Guerra, devido ao maior potencial bélico, provocou danos ainda mais traumáticos não só nas cidades europeias como Varsóvia, Florença, Dresden, Berlin, dentre tantas outras, como também em outros continentes (notoriamente Hiroshima e Nagasaki, Japão). As marcas dos eventos bélicos dos séculos XX e XXI têm constituído um vasto legado que tem sido estudado sob a denominação “patrimônio da guerra” [4].
A contemporaneidade do desafio de afrontar essas situações de súbitas destruições se renova constantemente já que diversos bens culturais são continuamente acometidos por toda ordem de incidentes catastróficos (naturais ou antrópicos). Em função dos recentes desastres naturais (terremotos) no Nepal e Itália e dos conflitos bélicos na Iugoslávia, Yemen, Iraque e Síria o ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) se reuniu em 2016 a fim de elaborar diretrizes sobre a recuperação de Patrimônios Mundiais que passam por situações traumáticas, originando o guia intitulado: “Post Trauma recovery and reconstruction for World heritage cultural properties” [5].
O Brasil não tem enfrentado eventos bélicos recentes e tão pouco é palco de terremotos; contudo, há várias situações traumáticas que têm acometido o patrimônio nacional desde o século XX. São destruições parciais ou totais deflagradas, principalmente, por incêndios e enchentes. Os seguintes casos levantados [6] em alguns bens tombados pelo IPHAN (ou eventos de grande repercussão em patrimônios tutelados pelas respectivas esferas estaduais ou municipais) proporcionam um breve panorama sobre a situação:
É possível constatar que há um acúmulo de arruinamentos derivados de incêndios. Na Nota Oficial sobre o ocorrido com o Museu Nacional, o IPHAN menciona que desde julho de 2017 está procurando compatibilizar em conjunto com o Corpo de Bombeiros uma Normativa de Combate a Incêndios e Pânico em Edificações Protegidas [7]. O fogo é um incidente súbito e catastrófico, mas, geralmente, é deflagrado por um acúmulo de negligências que o precedem. O que enseja uma reflexão sobre a questão da falta de uma manutenção preventiva, da qual a perda do Museu Nacional (edifício e acervo) é um caso flagrante.
Incúria e incidente: uma interposição de interpretações
Há uma sensível diferença na interpretação simbólica de um arruinamento derivado de uma fatalidade como um sismo, uma enchente, ou até mesmo uma guerra, e a destruição de um patrimônio por negligência, em que se acrescenta à dor da perda o sabor amargo da culpa, na medida em que se interpõe a seguinte questão: essa destruição poderia ter sido evitada?
Dentre os fatores para a abordagem das ruínas do “incidente” [8] evidenciam-se: o impacto pela contemporaneidade do arruinamento, a dimensão da perda física e simbólica e a aceitação (ou não) dessa perda. Do ponto de vista simbólico, o caráter evocativo dessas ruínas remete à perplexidade diante da tragédia e da destruição, um sentimento que pode ser sintetizado por essas asserções de Jean Starobinski:
[…] Para que uma ruína pareça bela é preciso que a destruição seja bastante longínqua e que se tenha esquecido suas circunstâncias precisas; […] Ninguém sonha tranquilamente diante de ruínas recentes que fazem sentir o massacre: estas são logo desentulhadas para reconstruir. [9]
A opção pela conservação dos bens mutilados em estado de ruína porta uma potente mensagem constituindo-os em “[…] símbolos que asseguram a rememoração” [10], conforme atesta o filósofo Henri-Pierre Jeudy. Essas ruínas adquirem um papel patrimonial que testemunha a sobrevivência em relação ao evento que as desencadeou. O sentido memorável atribuído a qualquer catástrofe se amplifica quando a composição pictórica das ruínas é utilizada para deflagrar a noção do impacto da destruição. Podemos nos referir, por exemplo, ao emblemático Memorial da Paz, em Hiroshima, que integra as ruínas de um edifício que foi construído para uma exposição comercial da Prefeitura Municipal. As ruínas dessa edificação foram os únicos remanescentes mantidos da destruição de 1945 na cidade. Em 1966, após uma série de debates, o Departamento de Arquitetura da Faculdade de Engenharia da Universidade de Hiroshima decidiu pela efetiva conservação do aspecto arruinado do conjunto que foi declarado como Patrimônio da Humanidade em 1996.
Do ponto de vista documental, as ruínas do incidente podem revelar detalhes arquitetônicos até então ocultos, como materiais de construção sob as superfícies de revestimento, composição das fundações etc. Há que se considerar, ainda, que esses remanescentes não somente evocam, mas documentam de modo valioso o episódio que os acometeu.
A interpretação simbólica de um arruinamento provocado pela negligência é substancialmente mais pungente pela falta ou ineficiência de ações para preservar um patrimônio da ruína. O texto de Leon Battista Alberti (1404-1472) no De Re Aedificatoria (L. X, cap.1–1452) é muito elucidativo ao se referir ao estado de conservação do legado da Roma Antiga, consequência não só dos efeitos irremediáveis do tempo, mas também da negligência dos homens:
Por Deus! Às vezes não posso deixar de me rebelar ao ver como, por causa da incúria – para não usar uma apreciação mais crua: poderia ter dito avareza – de alguns, arruínam-se monumentos que por sua excelência e esplendor foram poupados até do inimigo bárbaro e desenfreado; e os quais, até o tempo, tenaz destruidor, teria facilmente deixado durar eternamente. [11]
A ruína “da incúria” [12] que assola muitos bens culturais é produto de um processo silencioso derivado da falta de ações concretas por parte das políticas de preservação, dos proprietários ou dos demais agentes envolvidos que vai se acumulando paulatinamente através de delapidações (revestimentos, cobertura etc.), falta de manutenção, usos inadequados, dentre outros. Eventualmente, há denúncias e clamores por parte de setores da sociedade civil, ou até mesmo dos órgãos de preservação, mas o processo continua até que, num dado momento, se constata a dolorosa realidade: um patrimônio íntegro se transformou em uma ruína.
A evocação do abandono incorre na nulidade das ações, no arrependimento ou na constatação do que poderia ter sido feito e não o foi, conforme Henri-Pierre Jeudy: “A ruína antiga já tem um status patrimonial. Quando é atual, em vias de se transformar sob nossos olhos, dá ideia de abandono, de degradação, é um testemunho da incapacidade de preservar.” [13]
Ainda no século XIX, a proposição de uma manutenção constante e do respeito à condição material original foram aspectos chaves na abordagem de John Ruskin (1819-1900). Ele estruturou suas recomendações em relação à necessidade de conservação constante dos edifícios como um preceito fundamental em contraponto à necessidade da restauração: “[…] descurar os edifícios primeiro, e restaurá-los depois. Cuide bem de seus monumentos, e não precisará restaurá-los.” [14]
Na acepção em que se baseia a teoria de Cesare Brandi (1906-1988) e o restauro crítico conservativo, a restauração é definida como um campo disciplinar que fundamenta qualquer ação sobre os bens de reconhecido interesse cultural: manutenção, conservação e, inclusive, a “restauração preventiva” [15] que é ainda mais imperativa, pois objetiva impedir as intervenções de extrema urgência. Essas considerações sobre a necessidade da manutenção como uma práxis que antecede a restauração foi reafirmada na elaboração da Carta de Veneza (1964): “Art. 4º: A conservação dos monumentos exige, antes de tudo, manutenção permanente.” [16].
No Brasil, o decreto lei n. 25 de 1937, que instituiu o instrumento de tombamento como o principal meio de salvaguarda de nossos bens culturais materiais, aborda sobre os eventuais danos ao patrimônio histórico e artístico nacional alertando sobre as respectivas punições:
Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinquenta por cento do dano causado. [17]
Contudo, sabe-se que muitos bens de reconhecido valor cultural carecem de um efetivo programa de manutenção conservativa, levando-os a um progressivo arruinamento. O caso do Museu Nacional evidencia de modo eloquente não só a tragicidade do evento em si (incêndio), mas, principalmente, a negligência com os patrimônios que se deterioram continuamente. A dificuldade em lidar com esse tipo de arruinamento envolve aspectos como: a contemporaneidade ou o pouco distanciamento cronológico à degradação, o grau de destruição e a conotação negativa da causa da perda (no caso, a negligência), com o agravante da dramaticidade associada à súbita perda, uma vez que a edificação estava em uso e fazia parte da vida da comunidade.
Considerações Finais
O arruinamento do Museu Nacional e de seu acervo é mais um caso de denúncia pujante sobre os conflitos que envolvem as políticas de salvaguarda no Brasil. É sabido que o reconhecimento do valor cultural de um bem através do instrumento do tombamento ou outro meio de inventariação não basta para sua preservação. É necessário estabelecer um fluxo de recursos para sua correta utilização e ter na manutenção conservativa uma estratégia primordial para evitar processos de degradação acumulativos que possam levar à perda irremediável.
Uma vez constatado o grave estado de degradação de um patrimônio cultural, o que fazer? É necessário, primeiramente, documentar sistematicamente os danos causados para então propor uma adequada e respeitosa intervenção. Do ponto de vista do restauro crítico conservativo, a interpretação que se faz dessa nova condição arruinada pode levar a diferentes formas de tratamento que vão desde operações mais conservativas (como a consolidação do status quo) a restauros de completamento. Fora do escopo do campo disciplinar da restauração – quando o propósito não é necessariamente a preservação da matéria remanescente –, as ruínas também podem ser referências documentais do que um dia houve e se pretende reconstruir; e podem ser utilizadas para integrar visualmente projetos contemporâneos, estabelecendo um diálogo entre o antigo e o novo.
A complexidade da situação se coaduna no desafio de aceitar ou não a condição de ruína como parte da história do bem e tratá-la como uma nova articulação de características que aglutina valores (históricos e estéticos) a serem considerados para a preservação dessa preexistência. Nesse sentido, o valor cultural de uma ruína reside no fato dela não ser um elemento estagnado que somente remete a um passado de perdas, mas por ser um registro dinâmico que condensa múltiplas possibilidades cognitivas para o presente e futuro. O caso do Museu Nacional, assim como de tantas outras ruínas do “incidente” e da “incúria”, revela que esses remanescentes restabelecem um conjunto de novas relações na contemporaneidade. Portanto, a ruína não precisa ser interpretada somente como um fim, mas também pode ser interpretada como uma orientação para um novo começo.
Referências bibliográficas
Angela Rosch Rodrigues
Arquiteta e urbanista (Universidade Mackenzie, 1998). Mestre (2011), doutora (2017) e pós-doutoranda na Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E-mail: angelarr@usp.br
 v.2, n.4 (2018)
v.2, n.4 (2018)
Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons – Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional.